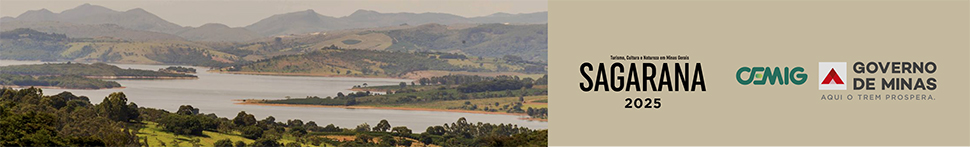Entrevista – Cao Guimarães
Minas é onde o mistério se escondeu
Por Cézar Félix e Juliana Afonso
Fotos Lucas Sander
Ele “atua no cruzamento entre o cinema e as artes plásticas”. Como cineasta, dirigiu nove filmes — todos de grande sucesso de público e crítica —, longas metragens que participaram de festivais como os de Cannes, Berlim e Veneza. Como artista plástico, Cao Guimarães, além de ter participado de importantes exposições no Brasil e no exterior, tem obras em coleções do Tate Modern (Reino Unido); Guggenheim e MoMA (EUA); Fondation Cartier (França) e Inhotim, dentre outros.
Nesta entrevista, além de falar sobre temas relacionados à arte, Cao Guimarães, como um bom mineiro de Belo Horizonte, conta como Minas Gerais influencia a sua arte, sobretudo nos filmes que rodou por aqui.
— Na sua obra como cineasta, em filmes como “O Homem das Multidões”, “Acidente’, “Andarilho”, “A Alma do Osso”, “O Fim do sem Fim”, o senhor sempre teve uma relação com Belo Horizonte e com Minas Gerais. Que experiência essa nossa terra trouxe para esses trabalhos?
— Quase todos os meus filmes foram feitos ou passaram por alguma região de Minas, principalmente pela Serra do Espinhaço. Na produção do filme “O Fim do sem Fim”, o meu primeiro longa, nós passamos por Salinas e conhecemos o mestre Paulo Marques de Oliveira. Desde então, adotamos como hábito voltar à cidade para pedir a “bença” dele antes de começar qualquer filme. O fato é que nos filmes mais documentais, que se relacionam com a realidade, começamos as filmagens na Serra do Espinhaço, que é uma região maravilhosa, a coluna vertebral do Brasil, uma parte do país que tem uma incrível tradição da oralidade. Para quem faz cinema, que gosta de ouvir histórias, é uma região riquíssima, além de extremamente bela. Em “O Fim do sem Fim”, viajamos durante dois meses por dez estados brasileiros, principalmente pelas regiões sudeste e nordeste. Em Minas Gerais, viajamos mais para o norte em busca de profissões em extinção. Depois, fizemos “O Acidente”, um filme realizado exclusivamente em Minas Gerais, criado a partir de uma ideia — junto com o cineasta Pablo Lobato — de compor poemas com nomes de cidades mineiras. São mais de 800 municípios, muitos com nomes maravilhosos — como Espera Feliz, por exemplo… Escolhemos uns 100 ou 200 nomes, recortamos, colocamos em uma mesa e compusemos os poemas. O que elegemos como o melhor foi composto por 20 nomes de cidades. “O Acidente”, portanto, é fruto dessa visita às cidades que compõem o poema. Fizemos uma viagem caótica, pois não seguimos um roteiro, nem seguimos o mapa. Do leste, a gente foi para o triângulo mineiro; depois para o norte e de lá voltava para o sul. Tínhamos a ideia de fazer um filme sobre a origem do nome das cidades, mas logo desistimos dessa proposta, que não levava a lugar nenhum. Então, resolvemos fazer um filme completamente livre de assunto, de objeto fílmico: ou seja, tratava-se um filme sobre o nada! É um filme sobre o que essas cidades querem dizer. A gente simplesmente chegava na cidade, acordava cedinho e ia com o espírito aberto e com a câmera na mão pra ver o que acontecia, o que nos fascinava o olhar, o que nos espantava. É um filme muito libertário, foi muito gostoso de fazer. É claro que a narrativa principal estava composta pelo poema, que ia se formando a partir de cada cidade e da história que cada cidade queria revelar para a gente. Isso foi muito rico; esse espírito aberto de buscar algo específico e deixar que o acaso nos brindasse com os acontecimentos.
Em seguida, veio a ‘trilogia da solidão’, com três filmes feitos em Minas Gerais. O primeiro foi “A Alma do Osso”, sobre Dominguinhos da Pedra que, aliás, faleceu recentemente. Foi um projeto que eu queria fazer desde “O Fim do sem Fim”, quando eu conheci um eremita chamado Joaquim Carvoeiro que morava em uma gruta no município de Conceição do Mato Dentro. Aquilo me fascinou muito. Então, eu escrevi esse projeto e fui em busca de outros eremitas. A princípio eu queria fazer três personagens: um morador das montanhas, outro que morasse no mar e mais um que tivesse como moradia um grande centro urbano. Aqui em Minas eu já tinha encontrado o Dominguinhos da Pedra. Fui então para a Bahia e vi que baiano não combina com “eremitência” (risos). Sei que desisti dos outros personagens e resolvi ficar só com o Dominguinhos — pois ele sozinho já era um personagem muito fascinante. No “A Alma do Osso” eu convivi com ele dentro da montanha, em uma gruta. Ele era uma pessoa envolvente, que desconstruiu toda a ideia de um eremita antissocial. Ele era isolado sim, mas carente de conversa e o maior tagarela que eu já vi na vida (risos).
O trabalho seguinte foi “O Andarilho”, um filme com três personagens. Fomos para uma região de muita incidência de andarilhos, na estrada que liga Montes Claros, Salinas e Pedra Azul. São muitos os que partem do nordeste em direção ao sul. Encontramos três andarilhos e, ao contrário dos eremitas — que não vão encontrar outros eremitas, porque estão isolados — os andarilhos se cruzam o tempo inteiro. Então, a ideia do filme é um pouco a ideia da solidão e do pensamento em transe. O que pensam essas pessoas? Eu, por exemplo, sou um cara que gosta muito de caminhar e, quando ando, o meu pensamento divaga, vai a lugares absurdos. Se em uma hora eu já fico assim, imagina quem passa 25 anos andando o dia inteiro? (risos) O que pensam esses caras? Como transformar isso em imagem? O filme buscou transformar os pensamentos dessas pessoas em imagens e promoveu um encontro de dois andarilhos. No fim do filme, o Valdemar e o Paulão, um gaúcho e um mineiro, se encontram. Eles têm um diálogo absurdo sobre a concepção de Deus — uma verdadeira uma loucura —que ficou maravilhoso.
O terceiro foi “O Homem das Multidões”, feito em Belo Horizonte. Eu nunca tinha feito um longa aqui em Belo Horizonte, e o fiz com um pernambucano, o Marcelo Gomes. É um filme inspirado na obra “O Homem da Multidão”, de Edgard Allan Poe, um marco da cultura moderna, das grandes cidades pós revolução industrial, que fala sobre o homem da cidade, perdido no meio da multidão e ao mesmo tempo fascinado por ela. Juvenal, o protagonista do filme, era um condutor de multidões — um maquinista de uma locomotiva de metrô. O vínculo era justamente a ideia de não conseguir se relacionar com a multidão, mas necessitar visceralmente dela. O metrô era perfeito, pois ele ficaria isolado em uma cabine, levando e buscando as multidões.
— De qualquer maneira, o senhor mergulhou a fundo tanto em BH, com “O Homem das Multidões”, como em Minas Gerais, com os outros filmes. O que o senhor diria sobre essa experiência?
— Sempre que a gente viaja, mesmo que seja para o interior do nosso quarto, algo acontece. Eu comecei a fazer cinema justamente depois de viver dois anos e meio em Londres. Essa é uma experiência (viver no exterior) muito importante para qualquer pessoa, de poder perceber de onde ela realmente é. Quando a gente não sai do mesmo lugar, não tem a dimensão do mundo, de outras culturas, de outras formas de viver. Quando a gente sai, a gente vê que o mundo é muito maior do que a esquina da rua da Bahia com a avenida Álvares Cabral. É muito importante você se ver de fora. Eu moro em Minas Gerais e sempre gostei muito de morar em Belo Horizonte. É um lugar que não está no centro da loucura deste mundo muito rápido. Aqui ainda existe um provincianismo do qual eu gosto, embora não em excesso. BH é uma cidade formada de gente do interior de Minas, e o interior mineiro é, definitivamente, fascinante. O interior tem um povo incrível, que vive no centro do Brasil e que recebe influências do norte e do sul, do leste e do oeste. Em Minas Gerais, você pode encontrar quase o Brasil inteiro. É como diz Caetano: “aonde o mistério se esconde” (risos). Minas é onde o mistério se escondeu. É esse lugar onde estamos aqui e agora. É como quando você chegou e disse: “nossa, esse lugar aqui em Belo Horizonte, esse bairro é muito legal! Há quanto tempo eu não vinha para esse lado da cidade…” Pois é, você veio e eu estou aqui, editando e finalizando um filme em uma salinha hiper profissional! Belo Horizonte revela tesouros escondidos no meio do nada. Não é uma vitrine como Rio e São Paulo, que tudo está exposto o tempo inteiro: a mídia, os eventos, os coquetéis, as ‘vernissages’. Eu costumo dizer que eu enlouqueço em Minas Gerais e vendo a loucura em São Paulo! (risos) É lá que estão as galerias de arte e onde há mercado.
— O senhor, que conhece tantos lugares, concordaria que Minas Gerais pode ser considerado um estado que oferece muita diversidade mas que, ao mesmo tempo, é único, com características típicas, no sentido de existir uma “mineiridade”, por exemplo?
— Eu tenho um pouco de cuidado ao falar de limites geográficos e delimitar a mineiridade… Eu tenho certa aversão a isso, certa preguiça. Eu acho que essa diversidade existe. O sul é absolutamente diferente do norte. Você pega um cara de Salinas e um cara de Caxambu e são pessoas completamente diferentes. Não sei que mineiridade é essa! (risos)
— Mas ambos falam ‘uai’…
— É, todos falam ‘uai’! Tem muita coisa que fica; a língua, o sotaque, a história. Mas eu não gosto muito de delimitar as coisas. É como falar em cinema “mineiro” ou cinema “pernambucano”. Existe tanto cinema em Minas Gerais, tantas pessoas fazendo filmes, trabalhos absolutamente diferentes um do outro. Não gosto desta mania que muitas pessoas têm de colocar tudo em categorias, em gavetinhas. Falar de uma “mineiridade” ou adjetivar a obra de um artista afirmando que ele é mineiro, que ele tem aquele sotaque mineiro, é algo muito redutor. Talvez, a gente possa até buscar características comuns entre Guignard e Amilcar de Castro, entre Carlos Alberto Prates e Humberto Mauro ou entre Drummond e Guimarães Rosa, mas, o que vale mesmo é que eles são donos de obras universais
— Qual é a sua análise sobre a produção cultural no Brasil em tempos, digamos, politicamente corretos?
— A produção cultural brasileira sempre foi muito rica. O brasileiro é um povo muito criativo. No trabalho Gambiarras isso ficou muito claro para mim. As gambiarras são quase obras feitas por pessoas comuns, que não tem nada a ver com a arte, mas que criam engenhosidades porque não estão no universo da “descartabilidade” do primeiro mundo — onde tudo o que se compra é jogado fora logo depois. Aqui você tem que se reinventar muito, inclusive para sobreviver. A gente vive numa espécie de jeito “gambiarrento” de viver. Então, a reinvenção é algo matricial do mundo da arte, da criação, e o Brasil sempre teve isso de forma muito rica. Obviamente, tem momentos de pico, como foram as décadas de 1950 e 1960. Hoje, em razão desta mania do politicamente correto, a gente vive em um mundo repleto de gavetinhas, de especificidades. A mídia está sempre pronta a propor a fórmula correta do fazer artístico. E também existe a ‘universidade’, pronta para ensinar a fazer arte. Eu não acredito em nada disso; a arte é muito maior do qualquer especificidade, do que qualquer rótulo. O politicamente correto já vem rotulado, especificado, estigmatiza e gera preconceitos.
— Sobre o cinema brasileiro, como o senhor vê esse ‘boom’ da comédia? Mesmo sendo um tipo de filme “especializado”, é válido para ampliar o mercado para filmes nacionais?
— Eu não posso lhe dizer muita coisa porque eu não assisto essas comédias . Com dois filhos pequenos, eu não vou mais ao cinema; o máximo que eu absorvo de cultura é por meio da leitura. Cada vez eu sou mais leitor do que cinéfilo. Eu vejo filmes quando me convidam para ser jurado de algum festival, mas assisto a poucos filmes brasileiros. Do pouco tempo que eu tenho, vejo os que eu acho mais interessantes. Uma boa comédia é sempre maravilhoso, mas essas brasileiras de hoje em dia me parecem não ter a menor graça. Eu gosto das comédias do Jacques Tati [cineasta francês], que são mais elaboradas, mais sofisticadas e não são pequenas nas fórmulas, como me parece que é o caso das atuais comédias nacionais de sucesso.
— Mas esse ‘boom” ajuda no vigor do cinema brasileiro?
— O que é o vigor do cinema brasileiro?
— De ampliar o mercado, por exemplo?
— De mercado pode ser, mas isso pra mim não me interessa. Cinema para mim é arte. Não é fazer uma coisa com fórmula: um tanto de potássio mais um tanto de trigo dá um pãozinho. Daí, milhões de pessoas vão comprar aquilo. Isso não é arte para mim.
— É inegável que um dos grandes “case”s de turismo hoje de Minas Gerais é o Inhotim. Como o senhor, que também é artista plástico, vê esse grande complexo de arte?
— Eu acho fantástica a iniciativa do Inhotim. Esses visionários que gostam de se arriscar e de apostar em coisas novas e estranhas como a arte contemporânea, são super bem vindos. Criou-se aqui em Minas um espaço muito curioso e aprazível, onde você pode ver a arte contemporânea em estado contemporâneo, como realmente ela é. Como lá existem obras de grandes artistas do mundo, o Inhotim também conta um importante capítulo da história da arte. Quem visita o Inhotim aprende que a arte contemporânea é derivada da arte moderna, é uma resposta à arte moderna, portanto, que houve ali um processo dentro da história da arte. Não é só o turismo pelo turismo. Além de ser muito agradável, o Inhotim é um lugar que apresenta coisas novas, para que as pessoas se interessem e se acostumem a olhar para a obra de arte contemporânea — não como uma coisa que qualquer criança faz, mas uma arte inserida dentro de um conceito que é fundamental para a pessoa entender o que é a ideia da transcendência — não só a do artista mas, principalmente, a do espectador. A obra de arte só vai existir quando alguém estiver vendo. E o Inhotim está ali pra isso. Quanto mais gente for, e quanto mais diversificado for o público, melhor para todos.
— Para finalizar, o que vem por aí em termos de projetos?
— Acabei de lançar um longa, um livro, fazer dois filhos… Estou meio exausto (risos). Cuido muito das crianças e esse período te deixa meio sem energia para outras coisas. É maravilhoso, mas suga uma energia danada. Esse livro foi uma reorganização de coisas que estavam bagunçadas lá atrás. A obra veio para organizar um pouco a minha carreira, e para me abrir para coisas novas que certamente virão por aí. Ainda estou captando alguns projetos de filmes. Também participo de várias exposições. Vou participar agora do “Panorama das Artes”, com curadoria do Aracy Amaral, no MAM [Museu de Arte Moderna] de São Paulo, e outras exposições em outros espaços. Mas tudo ainda é meio projeto. Após terminar esse trabalho para o MAM, tenho outros projetos de filmes e longas, mas prefiro não comentar porque vamos ver se tudo acontece.
Quando a gente não sai do mesmo lugar, não tem a dimensão do mundo, de outras culturas, de outras formas de viver. Quando a gente sai, a gente vê que o mundo é muito maior do que a esquina da rua da Bahia com a avenida Álvares Cabral.
O interior de Minas tem um povo incrível, que vive no centro do Brasil e que recebe influências do norte e do sul, do leste e do oeste. Em Minas Gerais, você pode encontrar quase o Brasil inteiro.
Leia também Helvécio Ratton