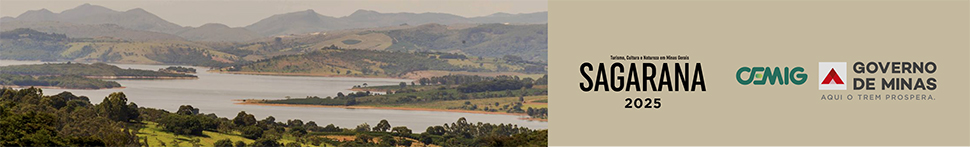A urbe é o habitat natural do famoso lambe-lambe. Dedicado exclusivamente à linguagem lambe-lambe, o Festival Tapume propõe tensionar o espaço público e renovar o pacto entre arte e rua. Entre uma edição e outra do festival — a segunda edição aconteceu em julho e a terceira em outubro de 2025 —, o Tapume segue como processo: colar, rasgar, sobrepor, escutar.
Por Maria Vaz (texto e fotos) com fotos de Samuel Fischer (Reverso Filmes/Divulgação)
Na primeira década do novo milênio, possivelmente no ano de 2005, uma certa imagem começa a se espalhar pelas ruas de Belo Horizonte. Estampada em cartazes, mais conhecidos como lambe-lambes, ela aparece pregada em lixeiras, postes, placas e outros mobiliários urbanos. O encontro com o ursinho que abraça um semelhante de menor tamanho, entre os dizeres “Masturbe seu urso”, torna-se, nesse período, quase inevitável para os que circulam a pé pela cidade. Não à toa, essa imagem — provocativamente plurívoca e indissociável do texto que a acompanha — fixou-se no imaginário do transeunte belo-horizontino. Certamente foi também plural a forma como ela foi recebida, despertando ora curiosidade, ora estranhamento, repulsa, simpatia, ou a confluência de todas essas sensações. É também possível que nem todos tenham notado sua aparição, e que menos gente ainda tenha parado para conversar com ela.
Vinte anos mais tarde, a poeta, pesquisadora, artista e coladora de lambes Débora Rossi Fantini levaria a imagem, em escala um pouco maior do que a que se espalhara pela cidade, para dentro da galeria de um espaço cultural independente.
Pela manhã, ela cola o cartaz com a dupla de ursinhos e as três palavras que os acompanham há duas décadas. Excepcionalmente, não foi o grude (receita caseira feita de água e polvilho azedo e tradicionalmente usada pelos coladores de lambe-lambe) que prendeu o papel à parede: a cola diluída em água, além de menos propensa à sujeira, já seria suficiente para afixar o Masturbe — apelido, segundo Débora, para os íntimos — no espaço que passaria a ocupar, livre de chuvas e do risco de ser arrancado.
No mesmo dia, à tarde, a artista retorna ao local onde está confortavelmente instalado e muito bem aderido o cartaz e, munida de um estilete raspador, comete ela própria o ato passional. Impetuosa e ao mesmo tempo delicada, ela rasga parte das palavras compondo o palimpsesto: URBE-SE. É evidente o chamado à urbe — o habitat natural do famoso lambe-lambe. Trata-se, no entanto, também de um gesto que parte de uma conversa antiga, enfim retomada, entre Débora e seu velho conhecido Masturbe seu urso.

A Casa de Lambes: cena que aconteceu no dia 7 de junho de 2025, no Mama/Cadela, marcou a abertura da segunda edição. Foto Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.
A Casa de Lambes
A cena, que aconteceu no dia 7 de junho de 2025, no Mama/Cadela, marcou a abertura da segunda edição do Festival Tapume, dedicado exclusivamente à linguagem lambe-lambe. Para a ocasião, o espaço cultural ganhou um nome novo: Casa de Lambes. Ou melhor: a 1ª Casa de Lambes do Brasil. O ousado projeto, bem como toda a idealização do festival, vem de outra conversa antiga com os lambes. Quer dizer, uma conversa atravessada por eles, construída pelo escritor e gestor cultural Leonardo Beltrão em diálogo com milhares de pessoas que pararam para ver e ler o seu projeto #umlambepordia. Espalhado pelas ruas de diversas cidades no Brasil, as frases, poemas e aforismos gravados em papéis coloridos comemoram dez anos em sua cidade de origem. No Festival Tapume, o idealizador e gestor é também o artista anfitrião, com dois murais ocupados pelos seus “poemas de muro e amor” – em referência ao livro publicado com as mesmas obras.

Leonardo Beltrão. Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.
Foi também ele, Leonardo Beltrão, quem me convidou para atuar na curadoria e produção do festival, cuja trajetória acompanho de perto desde a primeira edição, em 2024, participando ativamente de todos os aspectos de sua construção. Essa posição me deu também substância para abordá-lo a partir da experiência, portanto muito do que vou narrar vem dela, além de escutas e conversas informais.

Retomo, portanto, a casa. Dias antes da citada cena da inauguração, o espaço do Mama/Cadela já começava a ser abraçado pelos lambe-lambes. Acima de um dos murais do nosso artista anfitrião, o muro de mais de 10 metros de altura por 12 de comprimento esperava a chegada do artista alagoano Paulo Accioly. Foram necessários dois dias para a montagem dos cinco andares de andaime frente ao muro, e outros dois para a colagem — com ajuda da assistente Bárbara Daros — do maior mural feito até hoje pelo artista, especialmente para o festival. Dado o tamanho, a obra ia tomando forma aos poucos. Após as primeiras horas, aparecia “Alma”, primeira palavra dos 120 metros quadrados de papeis. Ao fim do segundo dia, conseguiríamos ler, enfim, o restante da frase: “repleta de chão”. Alma repleta de chão evoca a mineiridade de Milton Nascimento e Fernando Brant, para reverenciar o folguedo alagoano, afinal a fotografia que compõe a obra integra o acervo do Museu Théo Brandão — o único dedicado à arte popular de Alagoas —, fechado desde 2015 para visitação. Paulo expõe a memória da cultura alagoana, lembrando-nos da importância de dar visibilidade aos arquivos e de compreender a cultura popular como parte essencial e fundadora da produção contemporânea.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.
Outros dois artistas e uma coletiva compõem ainda o corpo de convidados que ocupam a Casa de Lambes. De Jacarezinhos, Bruna Alcântara expõe sua “Nossa Senhora”, uma autorrepresentação de 2016, na qual a artista, recém mãe, amamenta o filho. Enquanto Paulo traz as palavras, Bruna traz o bordado amalgamado à imagem: uma vulva vibrante, um corpo aurático e um manto que o protege para, por sua vez, proteger a vida que alimenta. Dos olhos no rosto imponente, escorre um par de lágrimas cor-de-rosa.


Na fachada da casa e nas escadas do pátio, o belo-horizontino Bruno Ulhôa traz a cor por meio da tinta e do spray, além de uma técnica particular para a realização do lambe-lambe. No lugar do tradicional papel, mais efêmero e suscetível ao tempo, o artista usa, já há alguns anos, a lona. E, para aderir à parede, não serve grude nem cola branca, mas cola de sapateiro. Da escada à fachada, duas imagens recepcionam os visitantes, em marcante contraste. Na primeira, os ternos olhos abertos de um rosto infantil fitam quem chega, convidando a entrar. Na segunda, o corpo nu tem o rosto duplamente encoberto: pelas mãos entrecruzadas e pela máscara de búzios, em um convite também para dentro, mas não da casa – de si.

Foto Reverso Filmes/Divulgação.
Logo ao lado, em frente à porta de entrada, a coletiva Basuras, formada por BeaLake, Gabizira, Mari Tolentino e Ráiz constroem um mural em diálogo com o tempo, convocando vozes presentes e ancestrais. Manoel de Barros, Leda Maria Martins, Nego Bispo, Luiz Rufino e Conceição Evaristo são alguns dos nomes que conversam conosco, entre si, e em meio às imagens, nas suas mais distintas — e, ao mesmo tempo, encontradas — maneiras de encarar o tempo. A coletiva “transfeminista autoconvocada de comunicação popular”, como se definem, ocupa há sete anos as ruas de Belo Horizonte com lambe-lambes que, também segundo o grupo, transitam entre “arte e informação”.

Foto Gabval Moura/Reverso Filmes/Divulgação.

Quando me foi incumbida a nada fácil tarefa de escolher os nove artistas convidados dessa edição do Tapume, tentei, antes de tudo, pensar em um corpo diverso de produções e criadores — sempre em diálogo com Leo e André Mimiza, também produtor do festival —, mas que tivessem, de diferentes maneiras, relação com a linguagem do lambe-lambe. Trouxemos também, por alto, um norte: a palavra ancestralidade.
Devo confessar aqui que tenho uma relação ambivalente com os temas curatoriais. Entendo que, uma vez existindo, eles devem ser pensados a partir de muito diálogo e muita pesquisa. Não devem interferir na obra dos artistas ou limitá-la, mas atravessá-la, quiçá apenas tocar aquilo que eles já constroem. O que a levou a ser adotada como norte foi, principalmente, a forma como ela foi sendo recebida pelos artistas: com muito entusiasmo e com o retorno imediato de que, se ela não seria um tema, sempre fora um guia.
Do lado de dentro da casa — e de volta à primeira cena — outros dez artistas vão aos poucos chegando com seus baldes, rolinhos, papeis refilados e litros de cola branca diluída em água. Diferentemente dos citados até agora, esses foram selecionados por uma curadoria compartilhada entre mim, Carol Jaued e Prisca Paes. Recebemos um total de 98 inscrições, sendo 94 de artistas individuais e outras 4 de coletivos artísticos. A diversidade também estava no nosso radar: de temas, sujeitos, trajetórias artísticas e proposições práticas. No corpo final, tivemos obras potencializadas pelo texto, como as de Estandelau, Mel Rocha, Yanaki Herrera e, claro, a de Débora Fantini Rossi; obras que exploraram a hibridez de linguagens, como os trabalhos de Carol Smocowisk e W Mota; obras que, de maneiras quase opostas, tratam das relações entre o meio urbano e a natureza, como as de Yor e do Coletivo ALA; e obras que mobilizam o amor e o afeto, cada uma à sua maneira, como as de Kakaw e Zi Reis.
Por volta de uma da tarde, os artistas começam a chegar e a se acomodar diante de suas paredes. Organizam os papeis, fazem medições, pensam cuidadosamente como e por onde começar. A maioria trouxe alguém para ajudar com a colagem, deixando a casa ainda mais (agradavelmente) cheia. Nas horas seguintes, vão chegando os visitantes da festa de inauguração. Parte do evento é, inclusive, assistir às colagens ao vivo. Talvez esteja exatamente aí, eu diria, o maior acerto de um festival que ousa deslocar uma linguagem tradicionalmente urbana — fundada, difundida e arraigada às ruas — para dentro de uma galeria de arte. Acompanhar os processos, estar e trocar com os artistas em ação e ver, aos poucos, as imagens tomando forma, foi o que mais fez desse dia um dia tão marcante. Uma atmosfera quase mágica, “lisérgica” — disse uma das visitantes.
Não bastassem as obras ocupando o entorno e o pátio, as paredes da casa foram integralmente ocupadas pelas centenas de pedaços de papeis. Fragmentados, eles funcionam como peças de quebra-cabeças que, quando reunidas, formam imagens e palavras, constituindo as obras. A exceção seria justamente o cartaz que veio em um único pedaço de papel em tamanho A0, e que foi finalizado quando, ao contrário, perdeu uma parte de si — fazendo(-se), enfim, sentido. O chamado: URBE-SE, nos leva para o dia anterior a esse que narro.
URBE-SE
Para além das obras nas paredes da Casa de Lambes, cada um dos artistas selecionados realizou outra em paineis de 5 metros de largura instalados nas grades do Parque Municipal — parte do Circuito de Lambes —, onde aconteceu o primeiro dia de colagem, anterior à abertura do Festival.
No dia 6 de junho, entre as 13 e as 18h de uma sexta-feira útil, 10 artistas, entre eles mais um convidado, colaram, lado a lado, e apesar do movimento do centro da cidade, os seus trabalhos. Entre papeis, cola e baldes de água, iam se encontrando, muitos já amigos ou conhecidos, outros se vendo pela primeira vez. Simultaneamente à colagem, conversavam entre si e com o público passante, curioso com a ação.
No painel mais próximo ao parque, na direção ao Palácio das Artes, o primeiro pertence à artista Mel Rocha. Na imagem, um dos arcos do Viaduto de Santa Tereza — cartão-postal de Belo Horizonte — é o único elemento de concreto e atravessa um fundo verde povoado por palmeiras, marantas, onças-pintadas e outros animais. São companheiros — e protetores — das duas pessoas retratadas, que se apoiam em carrinhos de supermercado, objetos comumente usados por pessoas em situação de rua para guardar e carregar seus pertences. No centro da imagem, um texto afirma e reivindica direitos frequentemente violados: os direitos da rua, ou de quem vive nela. Para realizar a colagem, a artista, que também trabalha como arte educadora, contou com a colaboração de um grupo de usuários do serviço de assistência social, que ajudaram a fixar, diante do público, os seus próprios direitos.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.
Logo ao lado, Carol Smocowisk realizava a segunda etapa da sua obra, iniciada no dia anterior. Guarnecida de um material diferente do usado pelos demais artistas, ela usava a tinta acrílica nos espaços deixados propositalmente em branco, como se pintasse uma página de um imenso caderno de colorir. A pintura não condiz com o tempo dos demais artistas, com o tempo da rua, das cidades, com o tempo presente.O cenário é nostálgico justamente por ser ainda reconhecível: vem de uma possível experiência da infância, de uma possível casa de avó – como cada vez menos se vê. A cena é nostálgica na mesma medida em que habita o imaginário. E quem a imagina não é uma criança — como seria esperado — mas uma mulher adulta. E o faz para seus filhos ou para si mesma?

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.

Na sequência, outra criança protagoniza a cena. Amaru, filho da artista Yanaki Herrera, conduz a revolução pelos direitos da terra e dos povos, corajoso como sua mãe. Os cartazes em portunhol — fruto de um erro fortuito, em que a palavra “costumbre” saiu, naturalmente, “costume”, como quem já se acostumou com a nova língua — reúnem a tipografia de rua do Peru, origem da artista, com elementos visuais andinos e gritos de resistência latino-americanos.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.

De Amaru a Odé, filho de Zi Reis, e a terceira criança da extensa fileira de paineis, a artista constrói um diálogo entre eles, em que a comunicação, em meio à cidade tumultuada — dentro e fora da imagem — se dá, apesar de tudo. O tempo da conversa entre os dois, através do obsoleto fio de barbante entre duas latas, é lento, em oposição ao tempo da cidade que, na obra, parece se tornar também parte da brincadeira. Ao centro, no meio desse jogo de escuta, a encruzilhada abre caminhos possíveis.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.
No painel seguinte, mais do que uma representação da rua, vemos sua extensão: um reflexo de um futuro anunciado e, em muitos aspectos, já presente. Animais encurralados pela expansão urbana buscam refúgio nas cidades. O tom apocalíptico do abandono da urbe contrasta com a imponência dos pássaros. Diante disso, Yor, o autor da obra, lança a pergunta provocativa: “será que o bico do curicaca é forte o suficiente para rachar o asfalto em busca de insetos para se alimentar?”
O contraste se dá também entre diferentes temporalidades: na rua, passos apressados e automóveis acelerados. Na obra, um tempo quase suspenso, em que até os animais — únicos seres vivos da cena —, mesmo famintos, não expressam urgência. E, entre ambas, o artista – colando, lenta e cuidadosamente o seu primeiro painel de lambe-lambe. Sozinho, ao contrário da maioria dos colegas, alheio à fugacidade ao redor. Ele e uma mulher que o observa a alguns metros. Depois de aproximadamente quarenta minutos de contemplação silenciosa, ela se levanta, cutuca o seu ombro e diz, como conta o próprio: “eu tava aqui doida pra que você terminasse logo pra eu ver pronto, tô ali observando há tanto tempo mas preciso ir pra casa, depois eu volto aqui, tá ficando lindo, viu? Tchau”.
Diante do acontecimento, ele reflete sobre a arte, a rua e o tempo, recordando-se da ação do grupo Poro, que distribuía panfletos pelas ruas com o convite: “perca tempo”. Ao contrário de um tempo perdido, esse momento de contemplação é um tempo vivido, experienciado. E eu faria, em contrapartida, o convite: “viva o tempo”.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.

O próximo painel já está pronto, mas sem a presença do artista. Estandelau se antecipa nos espaços das colagens, ninguém nunca o vê, ainda que muitos já o conheçam. À roda de conversa que acontece depois, ele envia alguém em seu lugar, vestindo a camisa “eu sou o Estandelau por hoje”, para expor o fetiche da identidade do artista, que tantas vezes eclipsa a própria obra. Com a provocação, ele acaba tornando-se também obra, ainda que nunca vista. Torna-se ideia e, talvez mais importante, pergunta.
Aliás, Estandelau, com um humor tão ácido quanto preciso, nos provoca reiteradamente, expondo uma série de hipocrisias e vícios contemporâneos. A obra Clickbait é estratégia das redes levada às ruas. Sensacionalistas, curtas e, ao mesmo tempo, incompletas, fisgam até o transeunte mais disperso que, na impossibilidade de sanar a curiosidade com gestos comuns do meio digital — clicar e arrastar —, é estimulado a imaginar. Artistas viciados em agr… Agronegócio? Agradar? E o que segue no carrossel desse imperativo incompleto?

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.
O painel seguinte, da artista e designer Kakaw, mobiliza a força da conexão entre mulheres. Com plantas e ervas de cura, elas se abraçam em um movimento tanto de afeto quanto de força. Os corpos também arquivam os desejos de estar no mundo, “com coragem. Vivas, livres e sem medo” — nas palavras da artista.

Logo adiante, o Coletivo ALA (Arte Livre e Ambulante) — formado por Antônio Salgado, Dri Sant’ana, Pierre Fonseca e Saulo Pico — dá forma a seres imaginários a partir de matérias vivas. Utilizando elementos vegetais como folhas, sementes, flores e terra, esculpem figuras ora reconhecíveis (aves, águas-vivas, tartarugas) ora inventadas. Os carimbos que surgem nas imagens também nascem dos vegetais: cebolas, pepinos e outros corpos orgânicos repartidos. As criações resultam de vivências e oficinas realizadas em parques da cidade, construídas de maneira colaborativa e atravessadas por diálogos sobre arte, consciência ambiental e saberes tradicionais.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.
No painel ao lado, W Mota apresenta a série Afrodrone, construindo uma intersecção entre tecnologia e ancestralidade africana. Inspirado pelo movimento afrofuturista, o artista especula o drone, em suas próprias palavras, “como um orixá do ar, entidade espiritual e mensageira entre mundos”, propondo uma integração entre práticas afro-brasileiras e dispositivos tecnológicos contemporâneos.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.
O último painel é assinado por um dos artistas convidados para a edição. Na obra de Desali — nome marcante na arte contemporânea local —, corpos em movimento pelo centro de Belo Horizonte são capturados em fotografias que, recortadas e coladas no muro, instauram uma espécie de vigilância contínua e silenciosa. As imagens dos passantes vão se sobrepondo, compondo um painel que reflete a repetição cotidiana dos percursos (casa-trabalho, trabalho-casa) e a captura das imagens sem o consentimento de seus protagonistas. O gesto do artista desloca o olhar habituado e indiferente para uma zona de crítica e reflexão sobre o espaço urbano, os mecanismos de controle e os modos de subjetivação. Ao se acumularem, as figuras formam um emaranhado visual que revela não apenas a rotina, mas também potenciais e múltiplas rotas de fuga e resistência.
O “pano de fundo” da obra, entretanto, não é a própria cidade; tampouco é neutro, a começar pela escolha da cor. O vermelho alarmante faz o primeiro alerta — pare! A estética panfletária é típica de dois dos usos mais recorrentes do lambe-lambe: a propaganda e o protesto. Os textos pedem demora na interrupção da caminhada: “para inventar armas é preciso inventar inimigos”. E, “para inventar inimigos”, continua Mia Couto: “é imperioso sustentar fantasmas”.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.
A obra, que a princípio havia sido destinada a outro espaço do circuito, precisou ser realocada a pedido da instituição. Com isso, a segunda obra de Débora Fantini, que estaria entre os dez paineis do Parque Municipal, foi colada junto às dos outros cinco artistas convidados, no jardim interno do Palácio das Artes. A ciranda visual ecoa o coro feminino: “a voz das minhas avós”, “a fala da minha mãe”, “as rimas das minhas irmãs”. O fundo branco abre à escuta, enquanto a forma se desdobra em possibilidades: línguas, púbis, úteros. A parceria na colagem, fruto de um feliz acaso, foi, justamente, com uma irmã.

Foto Samuel Fischer/Reverso Filmes/Divulgação.

Nos paineis ao lado e nas paredes em frente, tivemos os últimos cinco artistas convidados: Mayara Smith, Estella Miazzi, Denilson Baniwa, Emerson Rocha (De Saturno) e, mais uma vez, Bruna Alcântara.
Mayara Smith, que participou da primeira edição do Tapume, retorna agora como artista convidada com uma obra criada especialmente para o festival. Manga Jatobá evoca seus avós maternos e paternos — guardiões das memórias que atravessam a artista e sua família — entre os pés de jatobá e manga que cresciam nos quintais da infância. A presença da Sankofa — símbolo africano que ensina que “é preciso olhar para trás para seguir inteira”, como lembra a artista — reforça essa escuta ancestral. Um outro acaso significativo: a obra foi instalada justamente entre duas árvores, como se encontrasse, no espaço, uma paisagem semelhante.

Estela Miazzi, natural de São Paulo, mas inspirada no Recife (onde vive e trabalha) e em outros mares, traz a paisagem e o imaginário do oceano, das águas profundas, da imensidão e da calmaria, e nos convida: “me dê a mão/ vamos sair/ pra ver/ o mar”.
O amazônida Denilson Baniwa demarca o território urbano como terra indígena, bem como todo o território nacional. O trabalho, iniciado em 2018 em parceria com Jaider Esbell, foi pensado desde o princípio como lambe-lambe, também com o objetivo de ser comercializado de forma acessível, contribuindo para o financiamento da vinda de mais artistas indígenas ao Sudeste.

 Nas paredes em frente, estão, lado a lado, Emerson Rocha, também conhecido como De Saturno e, novamente, Bruna Alcântara. Ele, com Ori, (que quer dizer cabeça, onde moram o autoconhecimento e a essência do ser), obra que traz seu marcante e conhecido azul profundo. Ela, com Você, em um contrastante e vibrante vermelho. A língua é de cobra, das memórias de infância às margens do Rio Paranapanema. Você é ela, a moça da fotografia? A artista? Eu? Ou você, que a vê?
Nas paredes em frente, estão, lado a lado, Emerson Rocha, também conhecido como De Saturno e, novamente, Bruna Alcântara. Ele, com Ori, (que quer dizer cabeça, onde moram o autoconhecimento e a essência do ser), obra que traz seu marcante e conhecido azul profundo. Ela, com Você, em um contrastante e vibrante vermelho. A língua é de cobra, das memórias de infância às margens do Rio Paranapanema. Você é ela, a moça da fotografia? A artista? Eu? Ou você, que a vê?



A ODE
Linguagem que nasceu para anunciar, cresceu para denunciar e se propagou sem amarras na contracultura urbana e enquanto expressão artística, o lambe-lambe cria uma ponte entre arte e público, tamanha é a diversidade dos diálogos propostos pelos artistas. Eles, as almas de tudo, repletas de chão, com trajetórias distintas e interesses diversos. Penso sobre o que os une e o que une suas obras.
Como já foi mencionado, nosso critério gravitava ao redor da palavra ancestralidade – palavra aberta, mas que servia como uma espécie de guia. Ela também apareceu bastante nas inscrições que recebemos pelo edital, e acabou se manifestando nas escolhas que fizemos Carol, Prisca e eu.
Entretanto, após a inauguração, refletindo um pouco sobre tudo, nas poucas horas que tive para pensar entre o dia 7 e a roda de conversa que aconteceu no dia seguinte, entendi que não era essa — ou somente essa — a nossa palavra guarda-chuva, o nosso ponto de conexão. O nosso elo seria a Ode.
Ode ao ancestral, aos que vieram e nos deixaram abastecidos para seguir, mas também ao futuro, a quem o nutre e aos que o construirão depois de nós. Às crianças e aos seus sonhos, sobre os quais falamos tanto porque são também dos nossos. O futuro não deixa de ser, afinal – como já disseram Ailton Krenak e outros grandes – ancestral. Ode ao amor, de vó, de mãe, diverso. Ode à música, à dança, ao mar, à terra. Ode aos animais e à sua capacidade de serem resistência em uma terra devastada, por serem parte do sonho em tempos de constante vigília. Ode à rua, às mais diversas formas de ocupá-la e aos direitos de quem a habita, a tudo que ela movimenta e provoca, à liberdade que muitas instituições e o Estado não oferecem. E, mesmo quando o que ocupa as ruas é acolhido dentro de uma galeria de arte, ela ainda é clamada, em uma ode final, à urbe.
Faça você mesma
Na conversa com o Masturbe, Débora se propôs a estabelecer um diálogo íntimo, pessoal, em contraponto à comunicação de massa comumente associada aos cartazes e panfletos urbanos. Apesar das longas conversas com os seus autores, João Perdigão e Luiz Navarro, ela entendeu que o lambe falava por si e deveria, portanto, ser ouvido. A ação presenciada no evento de abertura do festival — também assistida por João — é parte desse diálogo. Desde o boom dos lambe-lambes artísticos e ativistas em Belo Horizonte, no início dos anos 2000, Débora saía à noite pelas ruas com um grupo majoritariamente masculino para colar cartazes — nunca, porém, de sua própria autoria. Colou, inclusive, muitos Masturbe seu urso. O gesto do rasgo, então, é também uma “escritura colaborativa em processo”, uma ação de coautoria, em que uma mulher se apropria da imagem criada por dois homens, entendendo e respondendo ao chamado “faça você mesma”, e reivindica um espaço historicamente hostil aos corpos femininos.
Ainda que seu habitat natural seja a rua, no novo milênio, a internet sempre foi a segunda casa dos lambes. Sem a materialidade que a rua lhes confere, é evidente que a experiência não é a mesma. Reduz-se ao visual, enquanto na rua todos outros sentidos podem ser estimulados. Mas a internet não deixa de ser, também, uma casa mais perene, um arquivo, um repositório para conversas futuras.
Com o encerramento do festival, as obras dos painéis do Parque Municipal foram retiradas, mas seguirão em circulação. As obras do Palácio das Artes e da Casa de Lambes foram, contudo, permanentemente removidas e as paredes repintadas para as próximas exposições.
Deixo, portanto, as imagens da Casa de Lambes. E, dessa vez, apenas elas — sem textos, sem a minha voz como intermediadora. Deixo a oportunidade para que novas conversas possam acontecer.

Foto Gabval Moura/Reverso Files/Divulgação.
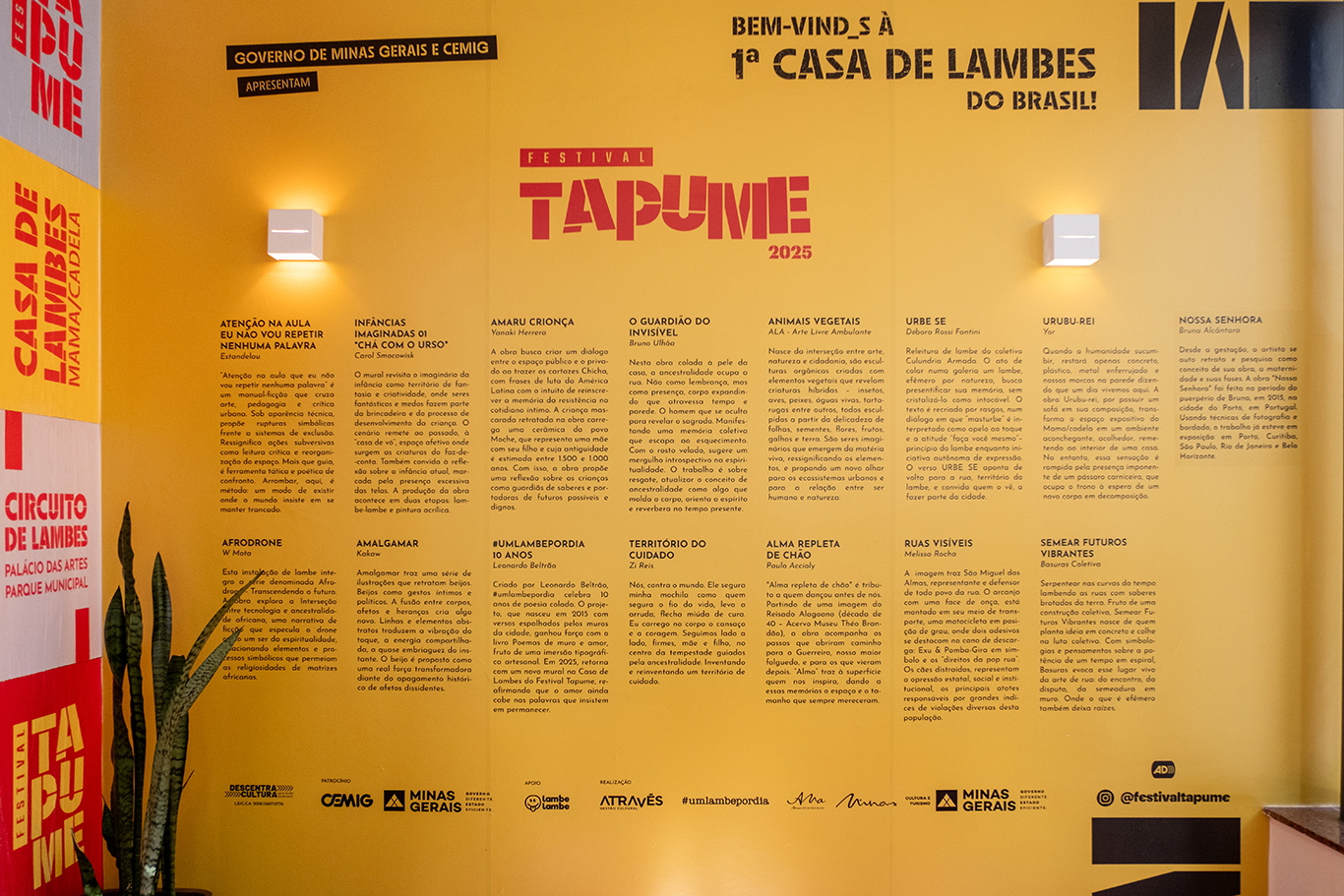









 3ª edição em cartaz
3ª edição em cartaz
Inaugurada na quinta-feira, 16 de outubro, a 3ª edição do Tapume permanece em cartaz até 16 de novembro, ocupando três espaços do Baixo Centro de Belo Horizonte: o Edifício Central, o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) e o Sula.
Em uma versão mais enxuta – como foi a 1ª edição, com painéis menores e um número reduzido de artistas –, o grupo dos 10 artistas selecionados é de peso, e as obras, não menos impactantes. Independentemente da escala, o festival segue impulsionando a produção e o debate em torno do lambe-lambe, reafirmando a importância dessa expressão nos centros urbanos e em manifestações artísticas e políticas.
O Tapume segue como processo: colar, rasgar, sobrepor, escutar.
A cada edição, o festival propõe tensionar o espaço público e renovar o pacto entre arte e rua. Não se trata apenas de exibir obras, mas de produzir encontros, deslocar olhares e reimaginar o comum. Entre uma edição e outra, o que fica é mais do que o mero registro, mas o que a cidade e seus habitantes absorveram e reverberaram desse encontro.
Para mais informações a respeito da edição em cartaz, acompanhe a programação nas redes sociais do Festival Tapume: @festivaltapume